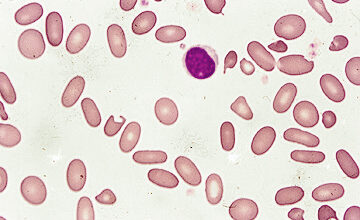Olá, querido doutor e doutora! A dor relacionada ao câncer representa um dos sintomas mais frequentes e debilitantes ao longo da trajetória oncológica, exigindo avaliação contínua e manejo estruturado. Suas manifestações envolvem componentes nociceptivos, neuropáticos, viscerais e psicossociais, refletindo a complexidade do processo tumoral e de seus tratamentos.
A dor oncológica pode combinar múltiplos mecanismos simultaneamente, motivo pelo qual sua avaliação deve ser contínua e individualizada.
Navegue pelo conteúdo
O que é Dor do Câncer
A dor relacionada ao câncer corresponde a uma experiência sensorial e emocional desagradável, decorrente de dano tecidual real ou potencial. Pode surgir pela invasão tumoral de ossos, nervos, vísceras e partes moles, ou como consequência de tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Trata-se de um fenômeno multifatorial que envolve componentes físicos, psicológicos, sociais e espirituais, configurando o conceito de dor total.
Conheça o curso mais completo para conquistar sua vaga na Residência Médica!
Prepare-se com o Estratégia MED!
Classificação da dor do câncer
Dor nociceptiva
- Somática: habitualmente bem localizada, descrita como dor em pressão, latejamento ou pontada, comum em metástases ósseas e infiltração de estruturas musculoesqueléticas.
- Visceral: costuma ser difusa e profunda, podendo manifestar-se como sensação de cólica, aperto ou peso, relacionada à distensão, infiltração ou compressão de órgãos torácicos, abdominais ou pélvicos.
Dor neuropática
Decorrente de lesão direta ou compressão de nervos periféricos, plexos, raízes ou medula. A dor é frequentemente percebida como queimação, choque elétrico, formigamento ou pontadas intensas. Pode resultar tanto da progressão do tumor quanto de toxicidade de tratamentos.
Dor mista
Combina elementos nociceptivos e neuropáticos, situação frequente em neoplasias avançadas que comprometem múltiplas estruturas simultaneamente.
Dor aguda e dor crônica
A dor aguda está associada a eventos recentes, como procedimentos ou crescimento tumoral abrupto. A dor crônica persiste por mais de 3 meses, sendo típica de neoplasias de comportamento progressivo ou de sequelas de terapias antineoplásicas.
Dor total
Integra dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais, ressaltando que fatores como ansiedade, medo, sofrimento existencial e alterações no papel social podem intensificar a percepção da dor, mesmo quando o componente físico é estável.
Epidemiologia
A dor está presente em uma proporção expressiva dos pacientes oncológicos ao longo de todo o curso da doença. Estima-se que mais de um terço dos pacientes em tratamento ativo apresenta algum grau de dor, enquanto aproximadamente metade dos indivíduos com doença avançada convive com dor persistente de intensidade moderada a grave. Essa prevalência elevada reflete tanto a biologia tumoral quanto as consequências de tratamentos potencialmente lesivos aos tecidos.
Etiologia e mecanismos fisiopatológicos
A dor relacionada ao câncer resulta da interação entre processos tumorais, alterações teciduais, inflamação, lesão nervosa e respostas neuroimunes, produzindo combinações variadas de dor nociceptiva, visceral e neuropática. O tumor pode invadir ossos, vísceras, plexos nervosos e tecidos moles, desencadeando mecanismos distintos que convergem para sensibilização periférica e central. Além disso, tratamentos oncológicos podem gerar neuropatias, inflamação local ou cicatrizes dolorosas, ampliando a complexidade do quadro doloroso.
Dor nociceptiva somática
Ocorre pela ativação de nociceptores presentes em estruturas como ossos, músculos e fáscias. Geralmente está associada a invasão tumoral direta, fraturas patológicas ou inflamação musculoesquelética. Caracteriza-se por dor bem localizada, descrita como pressão, peso, latejamento ou rigidez, refletindo estímulo persistente de nociceptores periféricos.
Dor nociceptiva visceral
Resulta da infiltração, distensão ou compressão de órgãos torácicos, abdominais ou pélvicos. É percebida como dor difusa, profunda, frequentemente acompanhada de cólica, aperto ou sensação de distensão. A convergência neural das vias viscerais favorece irradiação ampla e menor precisão na localização, o que dificulta a interpretação clínica.
Dor neuropática por infiltração tumoral
Surge quando o tumor compromete nervos periféricos, raízes, plexos ou medula. A agressão neural produz descargas espontâneas, perda de modulação inibitória e hipersensibilidade periférica. A dor costuma apresentar características como choques, queimação, formigamento e hiperalgesia, podendo coexistir com déficits sensoriomotores.
Dor neuropática induzida por tratamento
Procedimentos cirúrgicos, quimioterápicos neurotóxicos e radiação podem causar dano estrutural ou funcional ao sistema nervoso. Esse mecanismo inclui neuropatia periférica induzida por quimioterapia, radiculopatias pós-radiação e dor pós-amputação. Os sintomas tendem a ser persistentes, com padrões de parestesias e dor espontânea.
Componentes inflamatórios e imunológicos
A presença tumoral estimula liberação de citocinas, prostaglandinas e mediadores inflamatórios que amplificam a resposta dolorosa. O microambiente tumoral pode gerar sensibilização periférica, enquanto alterações centrais na medula espinhal favorecem potenciação prolongada das vias nociceptivas, contribuindo para dor persistente.
Dimensão psicossocial da dor total
A dor oncológica incorpora fatores emocionais, sociais e existenciais. Ansiedade, medo, perda funcional, insegurança, além de vivências espirituais fragilizadas, modulam a percepção dolorosa e podem intensificar sintomas físicos. Essa integração explica por que pacientes com carga tumoral semelhante podem apresentar padrões dolorosos distintos.
Diagnóstico
O diagnóstico da dor do câncer exige avaliação clínica estruturada, combinando caracterização detalhada da dor, exame físico direcionado e correlação com a evolução oncológica. O primeiro passo é identificar se a dor está relacionada ao tumor, ao tratamento ou a outras condições concomitantes. A anamnese deve explorar início, localização, irradiação, qualidade, intensidade, fatores desencadeantes e resposta a analgésicos, além de impacto funcional e emocional.
O exame físico inclui avaliação musculoesquelética, neurológica e visceral, buscando sinais de infiltração tumoral, fraturas patológicas, distensão de órgãos, déficits sensoriais e motores ou áreas de alodinia. Achados como hipoestesia em dermátomos, dor à percussão óssea, rigidez abdominal ou alterações de marcha são pistas clínicas relevantes.
Avaliação clínica primária
A abordagem inicial envolve caracterização completa da dor e identificação de síndromes associadas. É essencial registrar intensidade por escalas numéricas ou visuais, presença de dor irruptiva e padrão temporal. A avaliação inclui investigação de efeitos adversos de opioides e outros analgésicos, além de revisão de terapias oncológicas em curso.
Exames complementares
Os exames são indicados quando há suspeita de progressão tumoral ou complicações estruturais. Métodos como radiografia, tomografia, ressonância e cintilografia podem evidenciar metástases ósseas, colapso vertebral, compressão de estruturas neurais ou infiltração visceral. Estudos laboratoriais auxiliam na investigação de inflamação, disfunção orgânica ou efeitos colaterais de fármacos.
Diagnóstico diferencial
É necessário distinguir a dor oncológica de outras causas clínicas, como dor musculoesquelética não tumoral, neuropatias metabólicas, dor isquêmica, compressões radiculares degenerativas, dor abdominal não neoplásica e cefaleias primárias. Em pacientes em tratamento, diferenciar neuropatia induzida por quimioterapia, mucosite, síndrome mão pé ou fibrose pós-radiação é fundamental para orientar a terapêutica.
Identificação de urgências oncológicas dolorosas
Algumas situações exigem reconhecimento imediato, como compressão medular, obstrução intestinal, síndrome da veia cava superior, hipercalcemia, fraturas instáveis e dor torácica de rápida progressão. Esses quadros requerem intervenção precoce para evitar complicações neurológicas e funcionais.
Tratamento
O manejo da dor oncológica é baseado em uma abordagem multimodal, combinando analgésicos, adjuvantes, medidas integrativas e, quando indicado, técnicas intervencionistas. O objetivo é alcançar alívio adequado da dor, melhora funcional e redução de sofrimento global, com monitorização estreita de efeitos adversos e ajustes frequentes.
Princípios gerais de manejo
- Avaliar sistematicamente a dor em cada contato, registrando intensidade, padrão temporal e impacto funcional.
- Definir metas realistas com o paciente, como reduzir a dor a nível tolerável e preservar atividades significativas.
- Priorizar esquema em horário fixo para dor persistente, associando medicação de resgate para episódios irruptivos.
- Adaptar o regime analgésico à função renal e hepática, idade, comorbidades e interações medicamentosas.
- Antecipar e tratar efeitos adversos, em especial constipação, náuseas, sedação e confusão, desde o início da prescrição de opioides.
Tratamento farmacológico
Analgésicos não opioides
- Paracetamol pode ser utilizado para dor leve ou como coanalgésico em dor moderada a intensa, desde que respeitados limites diários para reduzir risco de hepatotoxicidade.
- AINEs são úteis em dor associada à inflamação e em dor óssea metastática, devendo ser empregados na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível, com atenção a risco gastrointestinal, renal, cardiovascular e hematológico.
- Em pacientes com maior risco de sangramento ou trombocitopenia, podem ser preferidos AINEs tópicos ou inibidores seletivos de COX-2, conforme perfil de risco.
Opioides
- Indicados para dor moderada a intensa ou refratária a não opioides. A escolha do fármaco considera função orgânica, tratamentos prévios e disponibilidade.
- Em pacientes opioide ingênuos, inicia-se geralmente com opioide de ação curta em doses baixas, com titulação rápida de acordo com a resposta. Morfina, oxicodona, hidromorfona e combinações com paracetamol são opções usuais.
- Em pacientes tolerantes a opioides, o ajuste é feito com base na dose diária total, aumentando gradualmente e, se necessário, associando formulações de ação prolongada para controle da dor de base, mantendo opioide de resgate.
- A rotação de opioides pode ser considerada diante de analgesia insuficiente ou efeitos adversos limitantes, utilizando tabelas de equivalência e redução da dose calculada ao realizar a troca.
- A prescrição deve ser acompanhada de orientação clara ao paciente e cuidadores sobre uso correto, armazenamento seguro e risco de sobredosagem.
Medicações adjuvantes
- Anticonvulsivantes como gabapentina e pregabalina são indicados em dor neuropática, com titulação progressiva e ajuste para função renal.
- Antidepressivos tricíclicos e inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, como nortriptilina, desipramina e duloxetina, podem reduzir dor neuropática e melhorar sintomas emocionais associados.
- Corticosteroides (por exemplo, dexametasona) são úteis em dor por compressão neural, edema peritumoral e dor óssea, além de auxiliar em apetite e bem-estar em curto prazo.
- Outras opções incluem lidocaína tópica em áreas localizadas de dor neuropática, cetamina para dor refratária em contexto especializado e cannabinoides em situações selecionadas, observando perfil de segurança e regulamentação local.
Tratamento específico de dor óssea e metastática
- Para metástases ósseas dolorosas, além de analgésicos, podem ser usados bisfosfonatos e denosumabe, que reduzem eventos esqueléticos e dor ao longo do tempo.
- A radioterapia paliativa em campo limitado é recurso importante para alívio de dor óssea localizada, com esquemas em dose única ou fracionados, escolhidos conforme estado clínico e logística.
- Procedimentos como vertebroplastia e cifoplastia podem ser considerados em fraturas vertebrais dolorosas relacionadas a metástases, visando alívio da dor e estabilização da coluna.
Intervenções invasivas e locorregionais
Em pacientes com dor localizada e refratária ao tratamento farmacológico otimizado, podem ser consideradas estratégias intervencionistas:
- Bloqueios neurais e neuroólise de plexos e nervos (por exemplo, plexo celíaco em câncer de pâncreas, plexo hipogástrico superior ou gânglio ímpar em dor pélvica e perineal), com potencial de reduzir necessidade de opioides e melhorar conforto.
- Analgesia epidural ou intratecal, por meio de cateter ou bomba implantável, em dor extensa que não responde a terapia sistêmica, permitindo uso de doses menores de opioides e anestésicos locais com efeito segmentar.
- Ablação por radiofrequência e outras técnicas percutâneas para lesões ósseas dolorosas ou comprometimento de raízes nervosas selecionadas.
- Procedimentos mais complexos, como cordotomia percutânea ou mielotomia, ficam reservados para dor unilateral ou visceral intensa e resistente em pacientes com sobrevida limitada, em cenários especializados.
Tratamento não farmacológico e integrativo
Medidas não farmacológicas são importantes como complemento ao tratamento medicamentoso:
- Fisioterapia e terapia ocupacional para preservar mobilidade, reduzir rigidez e orientar adaptações funcionais.
- Intervenções integrativas, como acupuntura, massagem, técnicas de relaxamento, mindfulness e musicoterapia, podem reduzir intensidade dolorosa, ansiedade e fadiga, especialmente em pacientes com múltiplos sintomas e baixa tolerância a doses maiores de fármacos.
- Suporte psicológico e social é componente relevante da abordagem, auxiliando na gestão de medo, tristeza, alterações de papel familiar e conflitos relacionados à doença.
Manejo da dor irruptiva e dor em crise
- Dor irruptiva demanda opioide de ação rápida em dose proporcional à dose diária de manutenção, administrado no início da crise. Formulações de liberação rápida de fentanil ou morfina podem ser opções, conforme disponibilidade e experiência da equipe.
- Em dor em crise intensa, podem ser usadas doses repetidas de opioides venosos ou subcutâneos com reavaliação frequente, ajustando a dose conforme resposta e monitorando sedação e função respiratória.
- Situações refratárias, sobretudo em fase final de vida, podem exigir avaliação para sedação paliativa em ambiente apropriado, com discussão clara com paciente e família.
Venha fazer parte da maior plataforma de Medicina do Brasil! O Estratégia MED possui os materiais mais atualizados e cursos ministrados por especialistas na área. Não perca a oportunidade de elevar seus estudos, inscreva-se agora e comece a construir um caminho de excelência na medicina!
Veja Também
- Resumo de Avaliação de Dor em Paciente Intubados
- Resumo de Dor Muscular Tardia (DOMS): sintomas e mais!
- Resumo sobre Contração Muscular: fisiologia muscular, tipos de músculo e mais!
- Resumo de fratura de fêmur proximal: diagnóstico, tratamento e mais!
- Resumo de doenças da mão
- Resumo de doenças da coluna vertebral
- Hérnia de Disco: o que é, tipos e muito mais
Canal do YouTube
Referências Bibliográficas
- EBSCO Information Services. Cancer Pain – DynaMed. Ipswich, MA: DynaMed; 2024.